João Bosco Botelho Doutor Honoris causa, Universidade Toulouse III-Paul Sabatier
A doença não existe só em si mesma.
A conjunção simultânea dos sinais e sintomas que a doença determina no corpo ‑ a síndrome ‑, dá-lhe legitimidade e impõe necessidade da observação pelo médico ou outro curador. Essa situação assume, na prática, o ponto de partida para retirar as doenças das construções teóricas abstratas, mesmo as que não podem ser evidenciadas no corpo, nas menores dimensões da matéria, mas com a certeza que o empecilho é temporário.
A consequência da enfermidade, entendido como mal que deve ser extirpado, constitui o principal pilar que alicerça a abordagem do doente ao estruturar o elo de confiança junto ao médico, não somente como fenômeno biológico, mas também parte da totalidade sociocultural de ambos, do curador e do doente.
O controle de doenças, especialmente, de endemias e pandemias, esteve diretamente ligado a esse conjunto.
O historiador Jaques Le Goff[1] é enfático: “A doença não pertence somente à história superficial dos progressos científicos e tecnológicos, mas à história profunda dos saberes e das práticas ligadas às estruturas sociais, instituições, representações e mentalidades”.
Um dos exemplos mais marcantes é a hanseníase. Essa doença começou a desaparecer da Europa, no século 17, trezentos antes do início do tratamento efetivo. Aqui reside um dos pontos cruciais do atual entendimento da medicina enquanto pratica social: é preciso que as escolas de medicina repensem as metodologias para que os alunos compreendam também a dimensão social da doença.
A análise cultural das doenças pode contribuir também ao esclarecimento como se processa a escolha que o doente faz na procura do médico ou do curandeiro, ambos consolidando o elo de confiança.
Em algumas culturas, muito distantes entre elas, esse encaminhamento é concretizado de modo semelhante, isto é, as pessoas se baseiam no sistema referencial dos amigos e não somente em indicadores objetivos do êxito profissional.
A milenar crença de a doença ser castigo divino ainda é marcante em muitas culturas. Após a escolha do curador, não necessariamente do médico, as práticas se distanciam rapidamente. Em certo sentido, em especial na construção do elo de confiança, a medicina empírica pode ser mais competente se comparada à medicina oficial. O médico tende como resultado da sua formação desvinculada das relações socioculturais, abordar exclusivamente a doença em compartimentos corpóreos, enquanto que o curador empírico se envolve com o dominante cultural utilizando-o no objetivo de curar.
E possível entender as práticas de curas sob três construções teóricas:
– Medicinas-divinas: fortificada nos templos dedicados às muitas divindades, cujos agentes de curas mágicas, sacerdotes e sacerdotisas, reconhecidos como intermediários dos deuses e deusas, ofereciam a cura magica por meio de rezas e encantamentos. Como uma facção muito forte, nesse conjunto, os adivinhos floresciam como alternativas para superar as adversidades futuras.
– Medicinas-empíricas: Desde o passado distante, nas primeiras cidades, também com forte partilha com as ideias e crenças religiosas, os agentes que compreendem parteiras, encantadores e benzedores, homens e mulheres sem escolaridade, exercem as práticas fora dos templos. Até hoje, em muitas linguagens-culturas, são respeitados e festejados. Particularmente importantes porque dominam certos conhecimentos historicamente acumulados dos recursos da natureza circundante. Heródoto[2], no seu extraordinário livro “História” descreveu um dia de festa, numa praça, na Mesopotâmia, quando doentes e curadores se encontravam, para buscar as curas das doenças nos exemplos de doentes que tiveram algo semelhante e se curaram fazendo ou bebendo isso ou aquilo. Ao cruzarem com alguém que apresentava sinais e sintomas de alguma doença que sabiam como curar, os curadores paravam para orientar, oferecer o tratamento.
– Medicina-oficial: Muitíssimo mais recente em relações as anteriores, tanto na Mesopotâmia, quanto em outras culturas que se organizaram e prosperaram, no segundo milênio a.C., os processos dos aprendizados, amparados pelos poderes dominantes, na formação do médico, estavam nos templos. Se distanciou das anteriores porque é a única que construiu, desconstruiu e continua reconstruindo propostas teóricas para desvendar as origens das doenças nas dimensões cada vez menores da matéria viva. Historicamente, tem vencido as barreiras para diminuir a abstração e aumentar a materialidade.
A compreensão das enfermidades como forma de desvio social foi teorizada Talcott Parsons[3] (1902-1976), em 1951, marcada pelo etnocentrismo americano da década de 1950 que legitimou os Relatórios Flexner (Abraham Flexner, 1856-1959), publicado em 1910, que fechou mais da metade das faculdades de medicina e reformulou completamente o ensino da medicina nos Estados Unidos, ao defender: “O paciente tem a obrigação de buscar ajuda técnica competente (fundamentalmente médico, o curador oficial) e cooperar no processo de recuperação”.
Essa conduta estabeleceu a nova ordem médica, no Ocidente, com o tratamento e a morte conduzida nos hospitais e fixou relação de absoluta dependência entre o doente se o médico.
É evidente que esse diretriz Flexner-Parsons é inaceitável nos países onde a maioria esmagadora da população não tem acesso à água potável, ao esgoto sanitário e aos hospitais.
[1] LE GOFF, Jacques. Une histoire dramatique. In: LE GOFF, Jacques; SOURNIA, Jean-Charles. Les maladies ont une histoire. Paris. L’Histoire. Seuil. 1984.
[2] HERÓDOTO. História. São Paulo. W. M. Jackson (Clássicos Jackson). 1952. v. 23.
[3] PARSONS, Talcott et al. Papel e sistema social. In: CARDOSO, Fernando Henrique; IANINI, Octavio, org. Homem e Sociedade. 3. ed. São Paulo. Nacional. 1966.
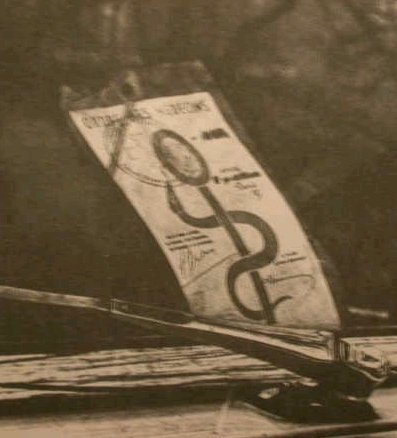
SÍMBOLO DA MEDICINA HOSPATALAR





 Usuários hoje : 70
Usuários hoje : 70 Usuários ontem : 134
Usuários ontem : 134 Este mês : 2072
Este mês : 2072 Este ano : 2072
Este ano : 2072 Total de usuários : 137353
Total de usuários : 137353 Visualizações hoje : 169
Visualizações hoje : 169 Total de visualizações : 672817
Total de visualizações : 672817 Quem esta online : 5
Quem esta online : 5